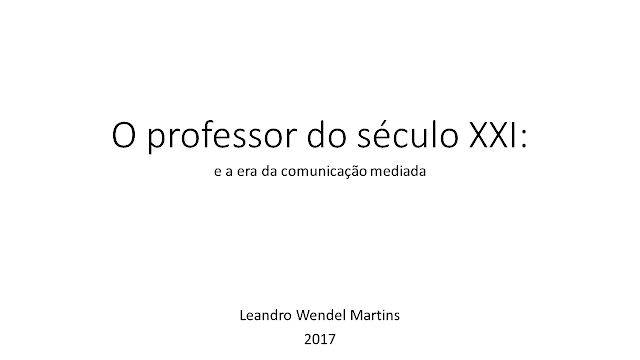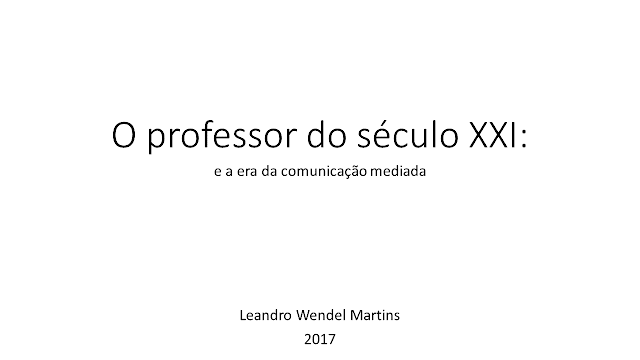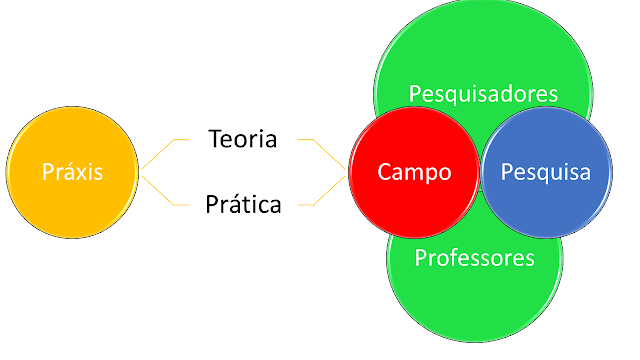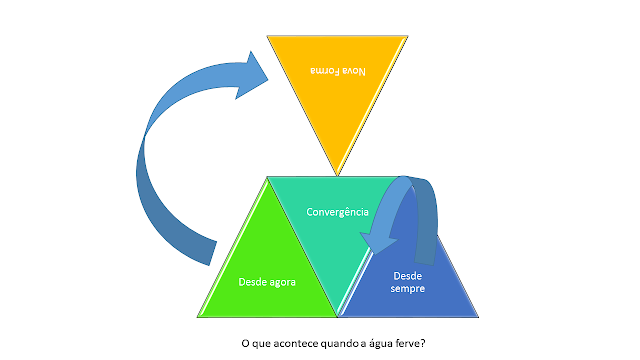Da identidade do
professor e dos processos de identificação
Distante o tempo em que podíamos apresentar conteúdos
de maneira linear e sem participação de atores múltiplos no processo escolar,
pois de tempos para cá, o clássico é produto de transformação na sociedade, tal
para a identidade como para o identificado nos contextos pessoais e sociais do
cotidiano. Justificamos a premissa da escola e seus atores como parte da
sociedade, célula impossível de dissociação.
“Identidade
cultural é um processo dinâmico, de construção continuada, que sistematiza
relações entre indivíduos e grupos e envolve o compartilhamento de patrimônios
comuns, tangíveis e intangíveis, como a língua, a religião, as artes, o trabalho,
os esportes e as festas, entre outros. Em decorrência do processo de
globalização, as identidades, hoje, não apresentam contornos definidos,
inserindo-se em uma dinâmica cultural fluida e mutante. Tal processo
intensificou os intercâmbios entre diferentes indivíduos e culturas, ampliando
o diálogo e as tensões entre eles. A diversidade cultural que o mundo apresenta
hoje, as múltiplas e flutuantes identidades em processo contínuo de construção,
a defesa do fragmentário, das parcialidades e das diferenças trouxeram, como
corolário, uma volatilidade das identidades que se inscrevem em outra lógica:
da lógica da identidade para a lógica da identificação[1]”.
Estudar os caminhos que levarão ao artefato da
autonomia pessoal significa inserir contextos de observação de cada
identificado, pois quem é o professor e quem é aluno? São todos estudantes?
Identificar ao invés de definir por completo, se é que
algum dia isso foi possível em relação aos atores de qualquer sociedade em
todos os tempos da humanidade, no entanto notamos a aceleração dos processos de
pontos de identificação de acordo com o ambiente e com o contexto de cada uma
das comunidades que frequentamos. Somos todos atores de processos em que o
conteúdo (conhecimento) pode surgir de inúmeras fontes com inúmeros meios
mediados de produção e difusão.
O Dicionário de Pensamento Contemporâneo apresenta um
verbete denominado “Identidade Pessoal[2]” define a
introdução do verbete reafirmando a questão da visão que forma a identidade por
atividade do pensamento do identificado, no entanto, amplia para a visão da
classificação de uma identidade pela visão de pensamento alheio e inseri a
vertente de tempo e lugares do espaço, e vai além em relação ao terreno do
sentido: “Entendemos a identidade pessoal com um terreno do sentido...” como se
devêssemos cercar o caminho para a construção deste conceito e depois
traduzi-lo em uma definição, e talvez seja exatamente a vertente mais
interessante para este exercício.
Os sentimentos regaram as criações e os movimentos artísticos,
segundo alguns críticos de arte, como o encantamento, a ojeriza e outros
relatados pela história, mas o fato é que a classificação destes artistas não
dependia apenas de sua própria visão de si, mas dos movimentos que representavam
e por meio de classificação alheia e ainda, em alguns casos, das subdivisões de
seus movimentos como o romantismo, por exemplo. Neste contexto, como veremos
mais adiante, a história contribui, pois pode relatar o sentido de alheio em
relação a classificação da identidade de atores que não mais podem se
autodenominar e estão alheios aos olhares classificatórios de outros atores. O
magistério não foge desta premissa, pois muito seus atores se julgam e são
julgados, como em inúmeras profissões, inclusive com a definição de perfis.
Retornando ao pensamento filosófico, sim este é um
problema ou característica da identidade interdisciplinar, pois suas linhas
podem se transpor em caminhos não lineares, mas com trajetória de início e fim,
assim como, caminhos desenhados por traços apenas paralelos.
“As razões que
levam a propor aqui com especial urgência o problema da identidade e que
sugerem uma solução são as seguintes: 1) o mundo atual se caracteriza, entre
outras coisas, por uma redução progressiva de atividades e manifestações a
padrões de conduta, e, portanto, a modos de ser e de comportamentos homogêneos.
O que faz com que se distribua e perca vigor a individualidade e por isso, a
própria pessoa. 2) À homogeneidade se une a instabilidade, gerada pela
mobilidade social, cada vez mais intensa e arriscada que leva a pessoa a se
dissolver dramaticamente, pelo desenraizamento que isso comporta, nos papéis correspondentes[3]”.
Novamente surgem questões ligadas ao pensamento de
identificação pessoal e dos processos que podemos instaurar de maneira
individual para nos descobrirmos diante dos efeitos da homogeneidade. Por
exemplo, em trocas com seus alunos as características de suas acolhidas e de
suas construções de relação serão únicas e provavelmente garantirão o quanto
longe chegarão todos os atores. O quanto cada um de consegue sensibilizar e
angariar a atenção, o fazer com prazer e o ir além.
Quando tratamos da identificação de nossos alunos
precisamos resgatar pontos que nortearão a construção dos motivos destas
premissas, pois por qual motivo se age desta forma e não de outra, talvez não
da forma como desejamos?
A revolução cultural nos períodos pós-guerras se deu
por diversos motivos, tais como, a falta de identificação dos mais jovens em
relação aos mais velhos e o que podiam aprender com eles, em desenhos de
hábitos criados naqueles instantes e não mais transmitidos de maneira linear
como até então ocorrera. Hobsbawm[4] afirma que “a
melhor abordagem dessa revolução cultural é portanto através da família, isto
é, através da estrutura de relações entre os sexos e gerações.
A negação dos desenhos estimados e cultivados pelos
mais velhos impulsionaram novas criações em todas as áreas e começaram a
delinear molduras voltadas ao consumo das mulheres e dos mais jovens agora
“empoderados” pelo capital oriundo do trabalho. A moda, a música, o cinema e as
formas de comunicação começaram a ganhar rapidamente interesses múltiplos e
cada vez mais excitados por mudanças e novidades, ponto de fomentação, é a
forma de comunicar identidades, características de grupos em um mundo cada vez
mais: “global”. A família, pela mutação de núcleo, ou a própria sociedade já
transferiu para a escola boa parte desta relação do estudante com os mais “velhos”,
a escola é lugar de referência para transmissão de valores.
“A segunda
novidade da cultura juvenil provém da primeira: ela era ou tornou-se dominante
nas economias de mercado desenvolvidas, em parte porque representava agora uma
massa concentrada de poder de compra, em parte porque cada nova geração de
adultos fora socializada como integrante de uma cultura juvenil autoconsciente,
e trazia marcas dessa experiência, e não menos porque a espantosa rapidez da
mudança tecnológica dava a juventude uma vantagem mensurável sobre os grupos
etários mais conservadores, ou pelo menos inadaptáveis.”
A cultura jovem global era dotada de capital e capaz
de difundir com considerável velocidade as informações, tendências e formas de
comportamento, este mundo autônomo provocou situações adversas ao passado, pois
“o que os filhos podiam aprender com os pais tornou-se menos óbvio do que os
pais podiam aprender com os filhos[5]”.
Identificarmos o nosso fazer dentro das identificações
que fazemos de nossos alunos deve permear como e qual o significado de nossas
propostas, sejam curriculares ou relativas ao modo de aplicação (didática). O
conteúdo o aluno pode acessar de várias formas, mas o modo de proposta terá
como norteador o fazer coletivo?
Produzir, portanto, artefatos de verificação de sua
própria identificação na carreira e de sua identificação com os pares que se
relaciona será norteador dos caminhos da autorrealização e do entendimento dos
cenários que atendem a sociedade contemporânea, aliás, somos profissionais
contemporâneos frente, por vezes, as tentativas do fazer da era moderna. Intrigante
será descobrir qual o grau de consciência do aluno diante destas propostas.
A comunicação
mediada frente ao coletivo do fazer
“A fusão das
telecomunicações, da informática, da imprensa, da edição de textos, da
televisão, do cinema e dos jogos eletrônicos no seio de uma indústria multimédia
unificada, constitui o aspecto da revolução digital que os jornalistas
sublinham com maior insistência. Não é, no entanto, o único e talvez não seja o
mais importante. Para além de certas repercussões comerciais, parece-nos urgente
evidenciar as grandes apostas civilizacionais ligadas à emergência dos multimédias:
novos mecanismos de comunicação, de controlo e de cooperação, linguagens e
técnicas intelectuais inéditas, modificação das relações com o tempo e com o
espaço, etc[6].”
Pressupostos da comunicação direta não atendem
plenamente o mundo da cooperação e nem as relações contemporâneas de tempo e
espaço, desta forma, torna-se difícil para o fazer escolar manter seus escopos
de comunicação direta e de saberes limitados ao realismo do findar-se em si, cada
assunto pesquisado e cada escopo de resultados poderá ser alterado pela gama
quase infindável de possibilidades de saberes resgatados por meio da
comunicação mediada. Quando pensamos nos adolescentes parece fácil compreender
este processo, pois já possuem autonomia tangível, mas em relação aos alunos da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental?
“O desenvolvimento
dos novos instrumentos de comunicação inscreve-se numa mutação de grande
amplitude, que acelera ultrapassa. Numa palavra: tornámo-nos nómadas. O que
significa isso? Trata-se de viagens de recreio, de férias exóticas, de turismo?
Não. Da ronda dos homens de negócios e das pessoas apressadas por todo o mundo,
de aeroporto em aeroporto? Também não. Os “objetos nómadas” da eletrônica viajante
não nos aproximam do nomadismo dos nossos dias. Estas imagens de movimento remetem-se para viagens imóveis,
encerradas no mesmo mundo de significados[7].”
Talvez uma relação difícil de se construir a de “mutação”
e desenvolvimento infantil, mas nossos alunos crescem em meio ao frenesi da
comunicação mediada e consomem todos os dias o modus operandi das formas de interação, consumo e construção de
conhecimento de nossa forma nômade de comunicação.
“Os primeiros
nómadas seguiam os rebanhos que procuram, também eles, alimento, ao ritmo das
estações e das chuvas. Hoje em dia, somos nómadas perseguindo o futuro humano,
um futuro que nos perpassa e que nós fazemos. O humano tornou-se o seu próprio clima,
uma estação infinita e sem retorno. Tribos errantes misturadas com rebanhos,
cada vez menos separáveis dos instrumentos e de um mundo ao qual nos ligamos
estreitamente à nossa passagem, percorremos todos os dias uma nova estepe[8].”
Tanto a forma de viver como os adventos da comunicação
e das formas de interação não pararão suas mutações por conta dos interesses da
Educação, muito pelo contrário, pressionarão os fazeres de todas as ações e
instituições. Talvez chegamos ao ponto de não dar conta de justificar alguns,
ou muitos, dos mitos escolares tidos como procedimentos obrigatórios. No
entanto, o foco de nossa reflexão está ligado ao modo de acolher e fazer nos
espaços e tempos destinados aos cursos escolares. Como concorrer com o
turbilhão de novidades e formas de comunicar? Será melhor utilizar estas
novidades? Podemos ouvir os alunos?
Pierre Lévy reflete sobre a “desterritorialização”
como forma de comportamento do nomadismo antropológico e nós podemos refletir
sobre o quanto o território da escola ficou e ficará descaracterizado por
comportamentos que não podem se limitar ao tempo e ao espaço de uma “estepe”
cercada por muros invisíveis no campo da articulação de saberes, pois é
necessário construir: “artefatos”.
Podemos, ainda, citar as relações com o saber na
atualidade e a relação que teremos com este processo durante o exercício de
nossa profissão, carreira escolhida, pois a mutação do fazer é inerente as
relações com os outros: humanos também inseridos nas revoluções que todos nós
ajudamos a construir.
“Qualquer reflexão
sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura deve ser
fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber.
Em relação a isso, a primeira constatação diz respeito à velocidade de
surgimento e de renovação dos saberes savoir-faire[9].
Pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências
adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão
obsoletas no fim de sua carreira[10].
Este comportamento maleável, energético e inteligente
pode determinar a nossa capacidade de obter êxito em relação aos objetivos, por
sua vez repletos de “savior-faire” em sua construção. Neste sentido o bordão do
aprender a aprender faz parte do plano e não de mera consequência ou desejo, é
necessário ao construir com qualidade. Por exemplo, um bom plano de curso deve
prever o tempo de estudo do professor, bem como, o que estudar e pesquisar.
“A segunda
constatação, fortemente ligada à primeira, diz respeito a nova natureza do
trabalho, cuja parte de transação de conhecimentos não para de crescer.
Trabalhar quer dizer, cada vez mais, aprender, transmitir saberes e produzir
conhecimentos[11].”
Talvez a forma passiva do aluno tenha nos servido com
a forma passiva de encarar nossa profissão, nosso trabalho: e os resultados podem
nos apresentar os motivos de algumas, ou totais, insatisfações em relação ao objetivo
de realizar esta jornada. São as reflexões que podem nos mostrar novos fazeres,
mesmo que experimentais inicialmente, para a construção de processos mais
significativos e dos artefatos como veremos adiante.
“Terceira
constatação: o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam,
exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas: memória (banco
de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais de todos os tipos), imaginação
(simulações), percepção (sensores digitais, telepresença, realidades virtuais),
raciocínios (inteligência artificial, modelização de fenômenos complexos)[12].”
Tanto as novas formas de acesso à informação quanto os
caminhos e estilos do raciocínio são citados por Pierre Levy, logo, no âmbito
da Educação não poderíamos pensar em recursos paralelos, mas oriundos da
produção humana atual, tais como os aparatos tecnológicos e as formas de
utilização que tendem a requerer com este fim. Os conflitos aparecem quando tais
artefatos são recusados pelos professores e a forma de comunicação com o aluno
volta ao: desde sempre foi assim.
Orofino (2005) estudou a escola como espaço de
produção cultural e trata os componentes tecnológicos de comunicação como
percursores de processos de construção, onde a informação é importante e as
produções como forma de comunicação são fundamentais. Precisamos estabelecer os
significados do estudo em relação aos processos de autonomia, pois somo todos:
agentes transformadores de nossa própria história, a história da humanidade.
A construção dos
artefatos educacionais coletivos: formação de professores
“A escola precisa
abrir espaço para as novas expressões discursivas e narrativas que brotam na
vida das comunidades. Estar aberta ao bairro e ser também local de produção
cultural no sentido mesmo da ênfase e apoio à produção criativa, isto é
incorporar as práticas culturais dos estudantes seja do hip-hop, rap, reggae, sertanejo,
veneirão ou samba. Não importa o ritmo nem o tom. O que importa é que a prática
educacional se torne criativamente um amplificador reflexivo destas mudanças
culturais e assim contribua para que a comunidade escolar tenha voz e vez
medida que se conscientize sem deixar de ser simplesmente ser levada no rastro
dos modismos e promoções de vendas[13].”
Tal como, queremos o aluno construtor de artefatos didáticos,
os professores também são parte deste querer coletivo: gestores, mantenedores e
o próprio aluno querem ambientes significativos e estimulantes. Os processos e
tempos, neste caso, devem ser explorados com formação de práxis[14] em campo.
“Ao se filiar a
essa tradição do prático reflexivo, Zeichner constitui-se num dos mais ardorosos
em relações hierárquicas entre professores e pesquisadores. Propõe então a
pesquisa colaborativa como alternativa de crescimento profissional para ambos.
No caudal dessa tradição, ele já aponta para a formação profissional como
processo muito além da formação inicial – permanente, cotidiano e centrado nas
escolas e nos coletivos em que se desenvolvem as práticas pedagógicas[15]”.
A formação de professores passará por ciclos
infindáveis, assim como, os processos da construção dos artefatos como realizamos
hoje em nossa cultura. O coletivo produzirá produtos mais aprimorados que o
processo individual.
Um artefato composto de saberes, tecnologias e
pensamentos torna-se acabado por tempo variável, ao menos, até que novamente
passe por processos de novas transformações que envolvam pensamentos e
tecnologias: tornando-se novos artefatos.
Por exemplo: um
aplicativo educacional que após a construção coletiva, tornou-se artefato e
ganhou função didática em um curso, que em tempos depois, teve sua função
didática para a construção de um aplicativo por outro grupo de estudo, logo
tornou-se outro artefato, o qual poderá servir de base para novas construções,
as quais podem ser fundamentadas por novos saberes e pensamentos em ciclos
infindáveis. Será sempre necessário entender a função didática destes processos
de formação, tanto do aluno como do professor, ambos estudantes.
“Para Zeichner,
esses coletivos devem dedicar-se a temas que vão além da sala de aula, também
envolvendo questões estruturais escolares e sociais. A metáfora do professor
como pesquisador transforma-se assim em princípio e em proposta a ser implementada,
com a pesquisa sendo considerada atividade fundamental para o exercício do
magistério, também nos níveis iniciais de ensino[16]”.
Andrade; Aparacio (2016) pesquisaram sobre a
construção coletiva de um projeto de formação de professores em desenvolvimento
de sequencias didáticas coletivas para gêneros textuais, que acompanhava o desenvolvimento
do aluno durante seu processo de criação de textos. Os atores, acadêmicos e
professores, em diversos tempos de formação trocavam informações em campo e
adequavam o projeto diante das problemáticas que encontravam.
“Resumidamente,
com a realização dessa estratégia inovadora de formação docente – a construção
colaborativa de sequências didáticas de gêneros textuais – criamos condições para
os alunos da graduação:
- perceberem a
importância do domínio do conteúdo;
- construírem os
sentidos da prática pedagógica diante de situações concretas de
ensino-aprendizagem: observação, registro, reflexão sistematizada e com
interações compartilhadas;
- desencadearem
uma postura investigativa (importante para o desenvolvimento profissional);
- socializarem experiências
como forma de fortalecer a relação entre universidade e escola;
- comprometerem-se
com a autoformação (aprendizagem ao longo da vida)[17].
Certamente o ambiente citado na pesquisa proporcionou
aportes de formação, de troca de todos os atores envolvidos em processo mutuo
de desenvolvimento tangível: são justamente estes ambientes que queremos
formar. Para aproximar os atores de momentos mais significativos em suas
construções. A coletividade dos atores inclui os alunos, essa premissa não pode
ser perdida, com o objetivo de construirmos coletivamente os ambientes
coletivos para a vida, assim como, o cotidiano da humanidade nos revela em
inúmeros setores, para além dos muros da escola.
Al Gore ajudou a lançar o canal “Current” em agosto de
2005, que pretendia democratizar a construção de conteúdos televisivos, com
participação direta dos espectadores (futuros produtores de conteúdo),
principalmente o público jovem de 18 a 34 anos. O impacto no meio foi grande e
com inúmeras análises contrárias ao formato, as quais, alegavam desde a
problemática para com os anunciantes até a avalanche de produtores independentes
que seriam avaliados. A BBC também digitalizou seu acervo e o Current seguiu o
caminho da Web.
“Ambos estavam, de
certo modo, promovendo o que este livro chama de cultura da convergência. A
convergência não depende de qualquer mecanismo de distribuição específico. Em
vez disso, a convergência representa uma mudança de paradigma – um deslocamento
de conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que fluí em vários
canais, em direção a uma elevada interdependência de sistemas de comunicação,
em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia e em direção a
relações casa vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima para baixo,
e a cultura participativa de baixo para cima[18]”.
Qualquer semelhança com o visto nas escolas, em
relação ao anseio dos alunos em construir, em dizer e publicar, certamente não
será apenas semelhança. Talvez, a reflexão dos educadores deva centrar esforços
para entender que as mudanças na forma de aplicar cursos podem seguir o curso das
relações mediadas de toda a sociedade global, independentemente do que os
especialistas colocarem como empecilho.
Do plano de vida
ao âmbito da autorrealização: sua “selfie”
Pérez Gómez trata dos planos de vida perpassando pelo
fazer coletivo, no qual, a autonomia está ligada ao campo da ética, da
consciência e não ao fazer individualizado, assim como, Maslow trata da questão
da autorrealização, entre outros.
Provavelmente, educar significa entender que apenas
com a educação de todos, o coletivo, podemos construir mundos mais justos, mais
coletivos do ponto de vista do bem comum.
“A função docente,
obviamente, terá de experimentar uma transformação tão radical quanto o resto
dos componentes do sistema educacional. A visão terá de mudar de uma concepção
do docente como um profissional definido pela capacidade de transmitir
conhecimento e avaliar resultados para um profissional capaz de diagnosticar as
situações e as pessoas; elaborar o currículo ad hoc[19]
e preparar materiais, desenvolver atividades; experiências e projetos de
aprendizagem, configurar e criar os contextos de aprendizagem; avaliar os
processos e monitorar o desenvolvimento integral dos indivíduos e do grupo[20]”.
Obviamente que o processo de realizações não circunda
apenas o plano profissional, mas a plenitude e a capacidade de construir
histórias das quais gostamos de lembrar, estas, perpassam pela excelência.
Talvez, a melhoria continuada perpasse impreterivelmente por estas habilidades
de aprender, desaprender e reaprender. Também, talvez, há obrigatoriedade dos
fazeres práticos ligados aos estudos contínuos e ainda aos processos coletivos.
Todas estas premissas podem impulsionar os caminhos da autorrealização
profissional, mas uma em especial deve ser destacada: o sentido de justiça.
“Postular que o
compromisso com a justiça social e o conhecimento deve formar parte da cultura
profissional docente não configura nenhuma novidade. Trata-se, paradoxalmente,
de recuperar as melhores tradições do papel do mestre na sociedade. As
novidades devem ser encontradas na definição das melhores estratégias de lograr
este objetivo, particularmente em condições de massividade. A propósito, é
necessário postular a necessidade de enfoques sistêmicos, que abarquem tantos
os processos de formação inicial e contínua dos professores quanto as condições
de trabalho e os dispositivos institucionais. Como em muitos outros aspectos, o
ponto decisivo são os formadores de docentes. Neles, na produção acadêmica e no
saber profissional é que se encontram uma das chaves principais deste desafio[21]”.
O levante do compromisso mutuo, coletivo, que não
perde de vista a responsabilidade do fazer educacional e dos impactos das ações
docentes sobre cada aluno em processo de construção de sua autonomia, de seu
plano de vida e de suas futuras fontes de autorrealização. No entanto, os
professores também não podem deixar de vista suas fontes de significado, pois
estamos tratando de uma vida inteira de dedicação, de acolhimentos e de
construções.
Huberman (1992), trata do ciclo de vida da carreira
docente e sua pesquisa indica um processo de desaceleração do grau de interesse
pelo exercício ao longo da vida escolar, e o fazer coletivo e as novas fontes
de construir podem auxiliar na manutenção da carreira como fonte de
autorrealização, uma hipótese para reflexão coletiva, pois talvez nem as
pesquisas possam oferecer respostas sem “ad hoc”, e ainda, talvez, este seja o
papel da pesquisa no século XXI.
[1] SILVA, Liliana Sousa e. OLIVEIRA, Lucia
Maciel Barbosa de. Glossário do Itaú
Cultural. Itaú. São Paulo.
[2] GÓMEZ, M. Álvarez. VILLA, Mariano M (Org.). Tradução: Honório
Dalbosco. Dicionário do pensamento contemporâneo. Verbere Identidade Pessoal. Editora Paulus. São Paulo, 2000. –
(Coleção Dicionários)
[3] Idem 2.
[4] HOBSBAWM, Erick. A Era dos
extremos: breve histórico do século XX. Editora C&A das Letras. São
Paulo, 1994.
[6] LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: para uma antropologia do ciberespaço. Instituto
Piaget. Lisboa, 1997. (Coleção Epistemologia e Sociedade)
[7]
Idem 6.
[8]
Idem 6.
[9] Savior-faire: habilidade de obter êxito, graças a um comportamento
maleável, enérgico e inteligente; tino, tato.
[10] LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução COSTA, Carlos I. 3ª Edição. Editora 34. São
Paulo, 2010. (Coleção Trans)
[11]
Idem 10.
[12]
Idem 10.
[13] OROFINO, Maria Isabel. Mídias e Mediação Escolar: pedagogia
dos meios, participação e visibilidade. Editora Cortez: Instituto Paulo Freire.
São Paulo, 2005. (Guia da escola cidadã ; v. 12)
[14]
Práxis – processo de junção de teoria e prática em prol de um novo fazer: mais
aprimorado.
[15] LUDKE, Menga (coord.). O professor e a pesquisa. Editora
Papirus. Campinas, 2001. (Série prática pedagógica)
[16]
Idem 15.
[17] ANDRADE, Maria de Fátima R de; APARICIO,
Ana Sílvia M. A construção colaborativa de sequências didáticas de gêneros
textuais: uma estratégia inovadora de formação docente. IN. Práticas inovadoras de formação de
professores. ANDRÉ, Marli (org.). Editora Papirus. Campinas, 2016. (Série prática
pedagógica)
[18] JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução ALEXANDRIA, Susana L. 2ª edicação
Editora Aleph. São Paulo, 2009.
[19] Ad hoc – algo argumentativo, que defende
um ponto de vista ou uma situação e não meramente parte de uma definição
objetiva e isenta.
[20] GÓMEZ, Ángel I. Pérez. Educação na era digital: a escola
educativa. Tradução GUEDE, Marisa. Editora Penso. Porto Alegre 2015.
[21] TEDESCO, Juan C. O compromisso docente
com a justiça social e o conhecimento. IN. Por
uma revolução no campo da formação de professores. GATTI, Bernadete A;
MIZUKAMI, Maria da Graça N. et al (org.).
1ª Edição. Editora Unesp. São Paulo, 2015.